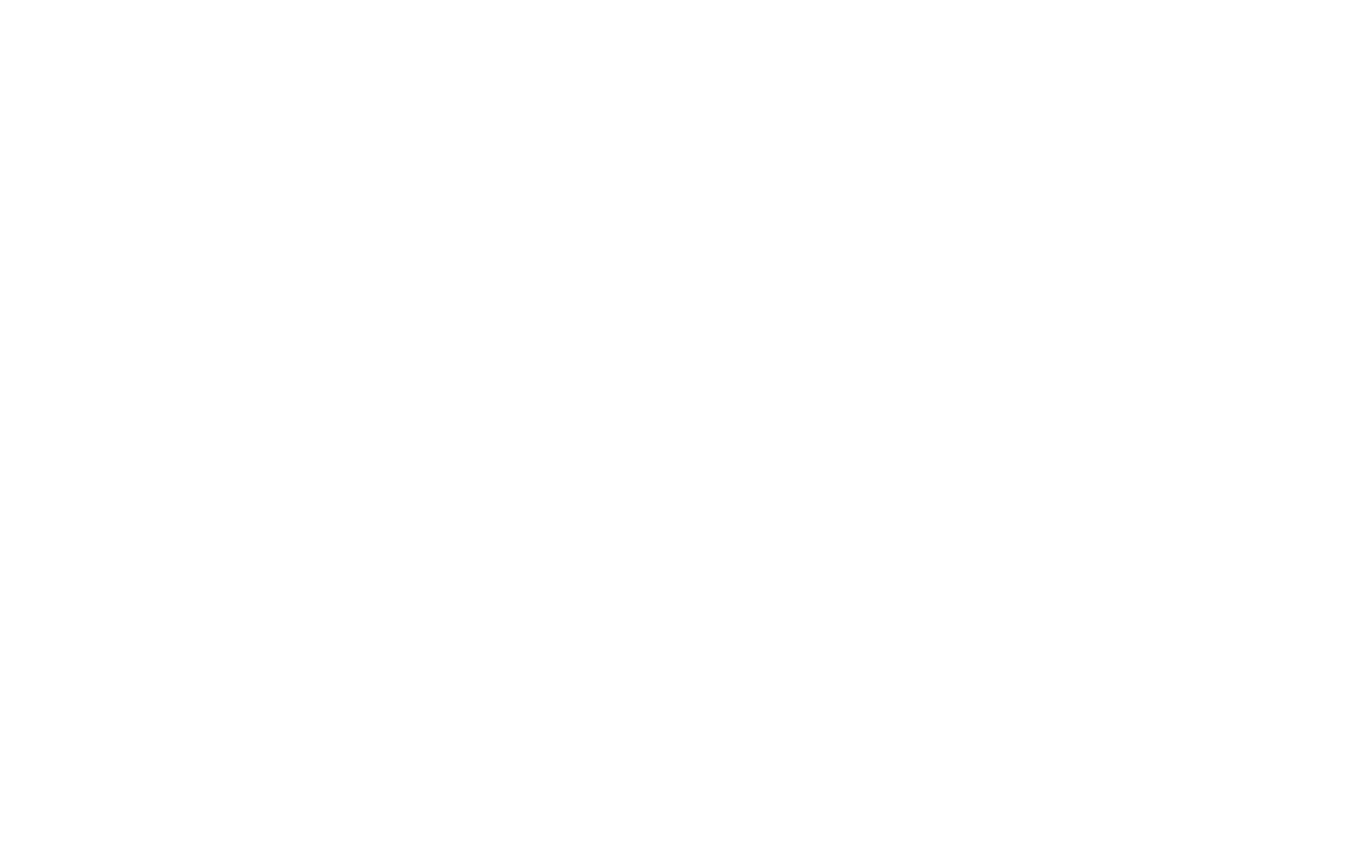Meus amigos, há coisas nessa vida que não se pode perder de jeito nenhum. Ouvir “We Are The Champions” em tudo o que é final de campeonato é uma coisa, mas ver, ao vivo (não em DVD), o Queen, com Freddie Mercury cantando o hino oficial do vencedor é que é o canal. Digo isso para dar um exemplo de algo que é preciso ser visto. Digamos que o show do Queen fosse uma bomba extraordinária. Ainda assim o espetáculo valeria para poder ver “We Are The Champions” ao vivo. Como já disse – e sempre repito – há coisas no mundo do rock que se tornaram parte do imaginário coletivo. E se há a possibilidade de um encontro com esse imaginário, frente a frente, não se pode perder de jeito nenhum.
Não preciso me esforçar muito para lembrar de outros. O Dire Straits, por exemplo. “Sultans Of Swing” é possivelmente umas das músicas mais tocadas nas FMs brasileiras em todos os tempos, e na sua versão ao vivo, aquela mesma que está registrada no álbum “Alchemy”. Tanto que a pobre da música sempre é citada como exemplo de mesmice nas rádios, que não toca nada de novo, só a dita cuja e blá blá blá. Eu prefiro ir na contramão desse lugar comum e a favor do rock. Tinha porque tinha que ver aquela paradinha no meio da música, quando a guitarra vai recuperando a força de seu riff aos poucos. E consegui, há sete anos, no show que Mark Knopfler fez no Rio. Um momento mágico que valeu todo o espetáculo do excelente músico. Já vi e ouvi mil e um guitarristas tocando essa versão, mas precisava ver O cara fazendo isso.
Da mesma forma postulo que de nada adianta ver o melhor guitarrista de todos os temos tocando “Smoke On The Water”, se um dia não der pra ver o genial Ritchie Blackmore, que inventou o riff (um dos mais poderosos da história do rock) fazendo isso, ao vivo, coisa que consegui em 1991, num Maracanãzinho com um som ruim daqueles. Pouco importava, meus amigos, porque estava frente a frente com O cara. Por isso fiz de tudo para ficar no gargarejo do show do Police, no ano passado, num Maracanã lotado, porque precisava ver a virada de “Message In a Bottle” feita por Stewart Copeland, e o riff criado por Andy Summers tocado por ele e acompanhado por Sting. Pouco importou se boa parte das músicas foi tocada em ritmo e velocidade diferentes; o importante era presenciar mais este imaginário coletivo do rock.
Disse isso tudo para chegar no show que fui, anteontem, aqui no Vivo Rio. Estava lá um senhor de 81 anos (mais velho que meu idoso pai) que tocou um repertório de menos de uma hora, tinha a voz rouca e encatarrada e tocava sem o mínimo punch que o rock exige. Seria um fiasco fenomenal, não fosse esse velhinho simplesmente um dos caras que inventou o próprio rock, um dos riffs mais colantes de toda a história da humanidade e gravou no imaginário coletivo um jeito inimitável de se movimentar no. Falo, claro, de Chuck Berry, “Johnny B. Goode” e de sua “duck walk”.
Durante anos escutamos essa música – tocada por quem quer que seja -, vimos esse negro eterno saracoteando de um lado a outro do palco e lemos histórias de como o rock foi criado passado por ele, que agora está ali, em carne, osso e alma, muita alma. Vejam vocês que eu, entusiasta que sou do rock (para dizer o mínimo), admito a irremediável falha de não ter sequer um disco de Chuck Berry escondido nas minhas inúmeras prateleiras. Nem uma reles coletânea barata, nem uminha música baixada em tempos de internet, nadica de nada. Ainda assim, conhecia boa parte das 13 músicas tocadas no show de anteontem. Digo isso para mostrar como a música de um pioneiro do rock (e da sociedade contemporânea) como Chuck Berry, faz parte da vida da gente.
Falava do show e dizia que, enquanto espetáculo, foi ruim. Sim, como cantor, Chuck Berry não tinha voz. Como guitarrista, não conseguia sequer tocar as músicas no ritmo alucinante em que ele próprio as criou, se resumindo a levadas quase narradas, num esforço digo de um recém operado. Sim, meus amigos, parecia que ele estava saindo de uma mesa de operações. Ou, então, iria entrar numa assim que o show acabasse. Ao meu lado, uns playboys bradavam, aos berros: “Rock’n’roll! Rock’n’roll!”, no que, a princípio, achei uma atitude deselegante ante ao velhinho. Mas como ir contra a mais legítimas das reivindicações? Clamar por rock num show de rock, e no de um dos caras que inventou o próprio rock é umas das solicitações mais inegáveis de que se tem notícia. Em algumas músicas, hinos de várias gerações, era mesmo difícil de identificar a melodia, a não ser lá pela hora do refrão ou de um verso mais marcante.
Apesar de clamores como esse que citei, e da falta de educação daqueles que não entendem a diferença entre público e artista, entre o mito e o ordinário, até que o público entendeu bem o espírito da coisa. Todo mundo cantou, dançou, pediu música e saiu dali achando ótimo ter investido o mínimo de R$ 90 para ver um show de cerca de 50 minutos, protagonizado por um debilitado senhor de 81 anos. Porque, meus amigos, acreditem, o que valia, ali, era esta perto do mito, era vê-lo tocar seus riffs (hoje tão nossos quanto dele), sua dancinha do pato e tudo o mais. O que vale é estar frente a frente, repito, com aquilo que está no inconsciente de todos e faz parte do imaginário coletivo do rock. Um momento sublime em que, por alguns minutos, sonho, fantasia e realidade são uma coisa só. Meus amigos, eu vi Chuck Berry tocando “Johnny B. Goode” e fazendo o “duck walk”. Vi o rock em pessoa cantando e tocando para mim.
Até a próxima e long live rock’n’roll!!!