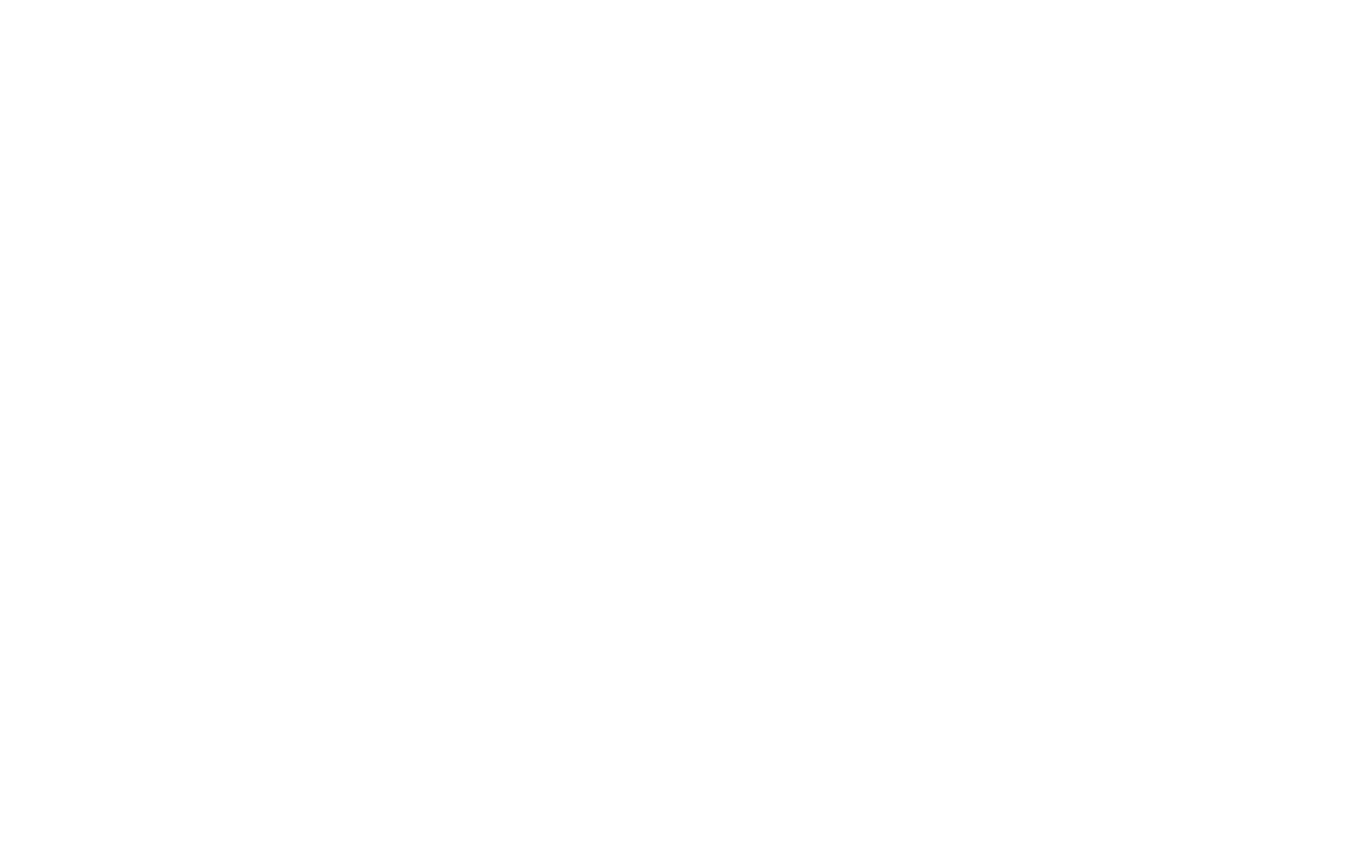O rei do pop está morto. Em listas de discussão na internet, fóruns e espaços especializados em música, um dos tópicos resultantes da notícia é quem será seu sucessor ao trono ou mesmo se haverá um. Tem quem acredite que essa monarquia já está encerrando, de forma decadente, esperando que mais uns três ou quatro nomes também partam dessa para a melhor. E, de fato, pensar esse universo pop global é um trabalho complicado. Mas fica pequeno quando é localizado na questão: e no Brasil? Quem seria nosso rei?
Talvez não exista um espaço tão conturbado na história dos gêneros musicais como o pop brasileiro. É um conflito que antecede a própria embalagem da MPB e o único que consegue dividir em extremos opostos os campos da produção, circulação e consumo de nossa cadeia produtiva. Se pensarmos no tratamento que a música pop recebe, por exemplo, em Estados Unidos e Europa, para tratar com um paralelo no caso brasileiro, a situação fica ainda mais complexa para destrinchar.
É um conflito também marcado por uma divisão de classes. Apesar do “pop” estar semanticamente ligado ao popular, as classes dominantes sempre tiveram dificuldade em aceitar que a produção que vem de baixo ocupe o espaço de quem está por cima. Foi assim com o samba, que, quando surgiu nos morros do Rio de Janeiro, foi imediatamente denegrido a música de pior qualidade. Algo que acontece com menos força e impacto com os casos do funk carioca e o Calypso.
Uma boa parte desse problema vem da própria imprensa. Existe uma resistência da parte dos jornalistas em aceitar que o pop brasileiro seja formado por Chimbinha e Joelma. Nos meios especializados, só se esbravejou contra a iniciativa da Rolling Stone em pôr Ivete Sangalo na capa da revista. A imprensa precisava promover seu próprio pop, mas quer que ele seja tão legal quanto é o nos Estados Unidos, com Rihanna, Beyoncé e Justin Timberlake.
O resultado disso é o escancarado fato de uma imprensa sem o poder de agendamento. Mallu Magalhães está na capa de todos os cadernos culturais do Brasil, conseguiu aparecer em programas-chave, mas falta o alcance, carisma e até o talento para emergir como uma verdadeira artista do pop brasileiro. E ela é apenas um exemplo de uma lista que passa por toda essa nova classe média da música nacional travestida de “mercado independente”. Rômulo Fróes, Curumim, Jonas Sá e outros passam constantemente por um filtro que parece não chegar a ninguém.
Do lado da produção, a complicação já é similar ao que acontece em outros países. Temos uma antiga geração que claramente representou nosso pop, como Chico Buarque, Caetano, Roberto Carlos e toda essa turma. Mas que não dialoga, não condiz e, principalmente, não inspira mais uma nova geração. Desde meados da década de 90 que existem tentativas que passam do sertanejo ao manguebeat, sem conseguir deixar nada realmente estabelecido na memória do povo brasileiro.
No extremo mais complexo dessa equação está o público. Imprevisível e com as rédeas do mercado tão firmes ao ponto de não aceitarem mais um novo disco nem se ele vier de graça. E, entre eles, nosso pop oscila da “diva” on-line Stefhany a até o pagode consciente do Fantasmão em Salvador, que reúne multidão nos shows, mas ainda está por fora do esquema trios-elétricos.
É fato que, nesse espaço de tempo, o mercado de música como conhecemos mudou. E apenas por esse motivo não vamos ter mais artistas tão fundamentais assim na vida das pessoas. Talvez os Los Hermanos tenham sido os últimos a pegar as vantagens de uma divulgação e consumo massivo. E até se resolver, de fato, como vamos ouvir e consumir música daqui para a frente, fica essa complexa tarefa de reunir essas três esferas e entender o que é que define e quem faz parte do pop brasileiro.